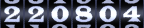A reinterpretação do cérebro
 “Antes de eu me envolver nesse assunto, já havia evidências de que deveriam existir células se dividindo no cérebro depois da fase de desenvolvimento, mas muita gente não acreditava”
“Antes de eu me envolver nesse assunto, já havia evidências de que deveriam existir células se dividindo no cérebro depois da fase de desenvolvimento, mas muita gente não acreditava”O mundo parou para repensar o que se sabia sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro quando o neurocientista norte-americano Fred Gage publicou em 1998 na Nature Medicine as primeiras evidências sólidas de que o sistema nervoso central humano continua a gerar novas células depois de adulto.
Resultado de anos de trabalho das equipes de Gage e de outros pesquisadores, a constatação marcou uma fase de descobertas que abalaria o conceito de estrutura e evolução do cérebro proposto quase um século antes por Santiago de Ramón y Cajal.
Médico e histologista espanhol, Ramón y Cajal identificou a arquitetura microscópica do sistema nervoso central e afirmou que, uma vez encerrada a fase de desenvolvimento, o cérebro se tornaria fixo e imutável, já que a “fonte de crescimento e regeneração” das células cerebrais secaria definitivamente. Doze anos atrás Gage conquistou seu lugar na história da ciência ocidental ao mostrar que essa ideia não era mais válida – ao menos não para todo o cérebro.
Desde que confirmou a proliferação de células no cérebro adulto, fenômeno conhecido como neurogênese e descrito em cooperação com o sueco Peter Eriksson, Gage não parou de criar novos experimentos para identificar a função desses neurônios jovens.
Considerado um dos mais influentes neurocientistas da atualidade, Gage coordena um laboratório com cerca de 40 pessoas no Instituto Salk, na Califórnia, de onde já saíram pouco mais de 600 artigos científicos, citados por 57 mil outros trabalhos.
Em visita à cidade mineira de Caxambu, onde participou em setembro do XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, Gage contou como confirmou a neurogênese em adultos e falou dos projetos em andamento.
Seu interesse pela capacidade do cérebro adulto de gerar novas células surgiu ainda durante a graduação?
Foi um pouco mais tarde. Quando eu era estudante de graduação, estava interessado em descobrir como o cérebro adulto reage a lesões. É a chamada neuroplasticidade em adulto, que comecei a investigar nos anos 1970, quando ainda se acreditava que o cérebro fosse praticamente imutável após o desenvolvimento.
Nessa época experimentos começaram a mostrar que o cérebro talvez tivesse alguma capacidade de recuperação após sofrer danos.
Já naquele tempo?
Sim, já naquela época. Não era ainda a capacidade de produzir novos neurônios. Mas, se um neurônio fosse cortado, parecia ser capaz de crescer novamente, de brotar. Como era um crescimento muito limitado, pensamos:
“Se eles podem crescer um pouco, talvez seja possível fazê-los crescer mais”. Assim que se passou a estudar isso melhor, percebemos que a plasticidade era maior ainda.
Eu tinha 18 ou 19 anos quando fui trabalhar em um laboratório e começou a ficar claro que o cérebro tinha muito mais capacidade de se recuperar do que imaginávamos.
A descoberta de que novos neurônios poderiam surgir ocorreu bem depois.
O senhor chegou lá a partir desses trabalhos dos anos 1970?
Não foi tão linear assim. Eu estava ocupado tentando compreender qual a capacidade de regeneração de diferentes áreas cerebrais.
Antes de eu me envolver nesse assunto, já existiam evidências ou, ao menos, artigos publicados dizendo que deveria haver células se dividindo no cérebro adulto. Mas muita gente não acreditava.
O pesquisador que descobriu esse fenômeno, Joe Altman, ainda está vivo, mas abandonou a área cedo porque ninguém acreditava nele.
Ele também tinha a ideia de que a proliferação de células ocorria no hipocampo, região cerebral associada à formação de memórias de longa duração e à capacidade de localização espacial?
De certo modo, sim. E também no cerebelo. Mas ele usava uma técnica diferente, que não permitia quantificar e não era suficientemente consistente.
Agora, quando analisamos o que ele havia feito, vemos de outra forma. Era realmente notável.
Depois, no início dos anos 1980, um pesquisador [Fernando Nottebohm] demonstrou que havia divisão celular no cérebro de pássaros adultos.
No aprendizado de novos cantos?
Foi o que ele disse. Os neurônios morriam em uma temporada e novos neurônios surgiam quando os pássaros aprendiam um novo canto. Mas foi muito controverso. Esse pesquisador usou os mesmos métodos que o outro havia utilizado e isso gerou uma batalha porque o método não era convincente.
Outros grupos, usando as mesmas técnicas, não conseguiam reproduzir os resultados. Mas lembro de prestar atenção ao que ele havia dito e era mesmo impressionante. Ainda havia pessoas tentando repetir os experimentos e eu entrei nessa história de modo diferente.
Eu trabalhava com uma proteína, o fator de crescimento de fibroblastos [FGF]. Eu havia estado na Suécia e fui para a Califórnia em meados dos anos 1980, levando o que havia aprendido de biologia molecular e de virologia.
Foi o começo de tudo.
Eu sabia que esse era o caminho que a neurociência deveria seguir. Então pegamos o gene que codifica esse fator de crescimento e o inserimos em células. A ideia era implantar essas células no cérebro e ver o que o fator de crescimento faria. A clonagem de genes e a terapia gênica estavam no início. O gene havia sido recém-descoberto no Salk por Roger Guillemin [que recebeu o Nobel de Medicina em 1977 por seus estudos com neuropeptídeos].
Conseguimos o clone do gene, o inserimos em fibroblastos e deixamos células cerebrais em cultura com os fibroblastos para ver se havia crescimento. De um momento para outro, os neurônios jovens começaram a proliferar loucamente.
A placa ficou tomada por células. Aí pensei: “Meu deus, devemos ter descoberto algo novo!” No início pensamos que algo nos fibroblastos poderia ter causado alguma reação e passado a secretar um fator de crescimento desconhecido.
Fomos fazer química de proteínas para descobrir o que tinha ocorrido. O vetor que usamos produziu muita proteína e jamais se havia observado o efeito de altas concentrações de FGF em neurônios jovens.
Baixas concentrações fazem os neurônios crescerem e concentrações elevadas fazem eles se dividirem. Gerd Kempermann e Malcolm Schinstine estavam em meu laboratório, e dissemos: “Olha, tem essa história maluca de neurônios se dividindo no cérebro.
Se for verdade, talvez possamos inserir fibroblastos no cérebro e produzir novos neurônios”.
E o que aconteceu?
Bem, então lemos o que havia sido publicado sobre o assunto e tentamos repetir o experimento, mas não conseguimos replicar os dados. Percebi que o problema era a marcação das células. A forma como se identificava se uma célula estava se dividindo era marcar essa célula com um elemento radioativo e contar os pontos que ficavam registrados em uma emulsão fotográfica.
Era completamente manual. Mais tarde foi desenvolvido um análogo químico com alta afinidade por anticorpos. Quando se administra esse análogo às células, ele se integra ao DNA. Anticorpos são então capazes de aderir àquelas células e localizar o núcleo com precisão.
Usamos esse composto, chamado BrdU [bromo-deoxiuridina], para identificar neurogênese em adultos.
Na época começamos a usar a microscopia confocal. A Olympus nos deu uma máquina e conseguimos ver o BrdU marcando os anticorpos. Também descobrimos que alguém havia usado um anticorpo para marcar núcleos de neurônios maduros. Então fui a Michigan, consegui o anticorpo contra o marcador neuronal conhecido como NeuN e marcamos duplamente as células, com BrdU e NeuN.
Com o microscópio confocal pudemos dissecar cada neurônio, reconstruí-lo de forma tridimensional e comprovar que aquelas células estavam se dividindo.
Como vocês conseguiram ver se isso estava acontecendo in vivo?
Tivemos de injetar BrdU em animais. Quatro ou cinco técnicas estavam em desenvolvimento e começamos a usá-las o mais rápido que pudemos.
O senhor já estava procurando neurogênese no hipocampo naquela época?
Não. Fui treinado para trabalhar com o hipocampo. Mas não estava procurando neurogênese.
Ninguém dava atenção a isso. Eu pesquisava as conexões entre o septo e o hipocampo, tentando reconstruir essa via. Fizemos os experimentos, nos convencemos daquilo e publicamos vários artigos científicos.
O mais importante que fizemos foi mostrar que a neurogênese ocorre e que a experiência em certos ambientes pode alterar o número de células.
Em geral, camundongos de laboratório dividem uma pequena gaiola com outros animais. Esse ambiente é restrito no sentido de não permitir que os camundongos explorem algo além daquilo. Um dos experimentos que fizemos foi o de mover os animais que viviam em pequenas gaiolas para ambientes maiores, ricos em brinquedos e outros objetos que estimulassem a curiosidade e a capacidade exploratória.
Nesses animais observamos um aumento no número de células no hipocampo. Mas ainda havia dúvidas em relação à quantificação do fenômeno. Então foi desenvolvida uma nova técnica, a estereologia, que permite contar o número exato de células. Essa técnica, aliada à microscopia confocal e à marcação dupla, permitiu mostrar não apenas que há mais células se dividindo no hipocampo de um animal adulto, mas também que o número de células aumenta até 15% apenas com alterações no ambiente.
Em geral o giro dentado do hipocampo de um camundongo tem 300 mil células. Depois de um mês os animais do grupo de controle continuam a apresentar 300 mil células nessa região, enquanto os animais que passaram esse período em um ambiente com mais objetos têm 350 mil células.
Assim conseguimos convencer todos de que não era a marcação das células com BrdU que gerava esse resultado, mas que realmente havia mais neurônios. A questão seguinte foi ver se isso também ocorria nos seres humanos.
Na época percebemos que algumas pessoas tinham sido tratadas com BrdU, que marca as células que estão se dividindo, para avaliar a progressão do câncer. Quando essas pessoas morriam, o cérebro delas ia para a patologia. Telefonei para colegas patologistas em laboratórios de câncer e perguntei se eles tinham pacientes tratados com BrdU e o cérebro deles.
Conseguimos algumas amostras, mas estavam fixadas em parafina. Ainda assim vimos BrdU no hipocampo deles, três anos antes de publicar o artigo de 1998.
Mas isso não era suficiente porque não podíamos fazer a dupla marcação das células e pensamos: “Ninguém acreditará em nosso trabalho”. Dois dos meus pós-docs que haviam retornado para seus países, um para a Finlândia e outro para a Suécia, tentaram entrar para equipes que realizavam testes clínicos com pessoas que tinham câncer em um órgão periférico e estavam sendo tratadas com BrdU.
Esperávamos até que morressem e enfermeiras, acompanhadas desses pós-docs, extraíssem o cérebro fresco e o enviassem para o Salk. Olhávamos ao microscópio e víamos as células se dividindo. Então comecei a chamar pessoas do meu laboratório e de outros que não estavam envolvidas nessa pesquisa para olharem aquilo.
Theo Palmer, que não é autor do artigo, era um colega na época realmente crítico. Ele apontava: “Acredito nesta, não acredito naquela”. Trabalhamos até ter um número suficiente de amostras em que confiávamos.
A maior parte do trabalho foi desenvolver ferramentas que permitissem ver a reprodução de células no cérebro.
Sabíamos que tínhamos de convencer pessoas extremamente céticas. No artigo apresentamos três ou quatro técnicas distintas de marcação de células que usamos no trabalho.
Nature e Science não aceitariam revisar o artigo, mas o editor da Nature Medicine na época arriscou e disse: “Isso é realmente espantoso!” E enviou o artigo para um monte de gente avaliar, inclusive nosso maior rival. Ainda hoje a possibilidade de alguém dizer que foi um artefato da técnica usada nos preocupa. Mas ninguém fez isso até o momento.
A neurogênese ocorre em apenas duas regiões do cérebro?
Bem, há duas regiões em que ela ocorre com regularidade e é facilmente detectável. Algumas pessoas já relataram que também ocorre em outros lugares. Mas os dados não são confiáveis.
Quando se analisa a medula espinhal, vê-se que há células-tronco em todos os lugares, mas elas não produzem novos neurônios.
Elas estão em um estado de dormência. Minha impressão é de que essas células se encontram nesse estado porque o ambiente não é adequado para que se transformem em neurônios.
Parte do desafio é descobrir o que fazer para as células-tronco neurais gerarem novos neurônios.
A neurogênese ocorre com regularidade no hipocampo e no bulbo olfatório?
Sim. Há ainda outra região no interior do cérebro chamada zona subventricular. É aí que as células estão se dividindo.
Depois elas migram por uma grande distância até o bulbo olfatório. É uma trajetória interessante, o caminho percorrido é longo. Já o hipocampo está duas ou três camadas de células abaixo e a migração ocorre muito rapidamente. E é mais fácil estudar.
O que dispara a migração?
Levou muito tempo para convencer as pessoas de que ocorria. O passo seguinte foi assegurar que esses neurônios amadureciam, faziam conexões, tornavam-se ativos. Agora estamos tentando descobrir por que isso acontece.
Já se sabe qual a função desses neurônios novos?
Uma ideia que reemergiu é que essa região do hipocampo está envolvida na discriminação de objetos distintos, em determinar o que os diferencia. Um dos testes para identificar isso é feito mostrando-se dois objetos semelhantes em sequência.
Primeiro mostra-se um isoladamente e, em seguida, os dois ao mesmo tempo. Essas situações ativam uma região do hipocampo chamada giro dentado.
Busca-se a imagem do objeto apresentado anteriormente, que é comparada com a imagem atual de ambos. É preciso ter alguma memória do primeiro objeto para se avaliar a similaridade deles. São as células jovens que são ativadas novamente quando se observa o padrão novo [dois objetos mostrados juntos]. As células antigas estão ocupadas procurando diferenças entre o padrão anterior e o novo, porque havia só um objeto no início e agora há dois.
Essa é uma diferença, mas o que se está tentando é identificar o que há de distinto entre os dois objetos. Estamos trabalhando em parceria com neuropsicólogos para criar testes que tentem demonstrar isso empiricamente. Primeiro mostramos para voluntários uma imagem com desenhos complexos, depois duas imagens semelhantes e em seguida perguntamos qual delas é igual à primeira. No primeiro nível é fácil porque a diferença é grande. Mas mostramos cerca de 50 pares de imagens com padrões que vão se tornando cada vez mais parecidos entre si. Estamos tentando ver até que ponto as pessoas conseguem distingui-las.
Como esse conhecimento poderia ser usado para compreender doenças que afetam a memória, como o Alzheimer?
Precisamos criar testes para seres humanos porque em todas essas doenças há um decréscimo na taxa de neurogênese. E há apenas testes clínicos muito genéricos. A verdade é que não é preciso ter hipocampo para discriminar duas coisas bastante distintas entre si. Pode-se usar só o córtex visual para isso. Quando conversamos, analisamos um monte de informações. Tentamos entender o que é dito, traduzir de volta para a língua materna e analisar os gestos para, com base nas referências pessoais, tentar dar sentido ao que está sendo dito.
As células que surgem na neurogênese parecem particularmente importantes para fazer essas associações. Há três partes nessa questão. A primeira é essa separação de padrões. A segunda é que, quando são jovens, essas células ajudam a formar memórias. Por último, depois que amadurecem, contribuem para fazer a distinção entre imagens com padrões semelhantes. É o que o nosso modelo matemático nos indica e os nossos experimentos estão mostrando.
A outra parte é que testamos se o que as células aprendem quando jovens fica armazenado nelas. Mais tarde, quando o mesmo evento é apresentado àquela célula, ela se lembra disso. Isso é muito empolgante e nos levou a fazer experimentos com animais geneticamente alterados para que os neurônios que se recordam das experiências iniciais fiquem marcados com uma cor diferente daqueles que se lembram das experiências tardias, que acontecem depois de certo tempo. Pretendemos mapear o padrão de expressão gênica das células que se lembram do evento e das que não se lembram.
Há evidências para diferença de expressão genética nessas células?
Estamos tentando ver isso. Há diferenças entre neurônios vizinhos. O material genético é diferente e também a expressão gênica. Além disso, alterações ambientais inserem informações no DNA. Talvez seja um fenômeno epigenético, que altera o funcionamento dos genes. Esse efeito vem sendo estudado por um ex-pós-doc meu [o brasileiro Alysson Muotri, professor da Universidade da Califórnia em San Diego]. Essa é a fronteira do conhecimento.
Seria possível usar o conhecimento sobre neurogênese para ajudar na diferenciação de células-tronco, corrigir lesões ou tratar doenças?
Na depressão o hipocampo encolhe. A conexão com esses dados é sutil. Não são dados meus, estão aí. Por alguma razão, o cérebro de quem é tratado com antidepressivos da classe do Prozac [inibidor seletivo de recaptação de serotonina] encolhe menos.
Mas é questionável?
Não. Dados são dados. Mas não dizem muito. Experimentos que fizemos mostraram que o Prozac induz a divisão celular. Mas dividir não é suficiente. As novas células têm de se tornar neurônio. Isso leva de quatro a seis semanas.
Os psiquiatras viram isso e enlouqueceram. Disseram: “É por isso que leva tanto tempo para os medicamentos funcionarem”.
Esses medicamentos aumentam a disponibilidade de SEROTONINA e células-tronco colocadas em uma placa de vidro com serotonina se dividem alucinadamente.
É assim que funciona, por meio dos receptores 5HT1A, que induzem a proliferação.
Há agora ensaios clínicos com drogas que atuam sobre a neurogênese e não interagem com o 5HT1A. Mas é tudo incipiente.
Em quase todas as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, há redução na neurogênese.
Além da morte celular, há redução na neurogênese.
A dúvida é se é a doença que está causando diretamente a redução da neurogênese ou, como acreditamos, a doença deixa o animal letárgico e isso leva à redução na neurogênese.
Quando se restringem os movimentos do animal, ele fica estressado e a neurogênese diminui. É possível que a queda no ritmo de neurogênese seja consequência da mudança comportamental causada pela doença.
Mas isso está sendo testado. Sabemos que um dos problemas que os pacientes têm no Parkinson e no Alzheimer é a dificuldade de saber onde estão.
Eles se perdem o tempo todo. Talvez não se consiga frear a doença, mas tratar alguns componentes e permitir que as pessoas lidem melhor com ela. Essa é minha meta otimista.
Qual a taxa de neurogênese?
Depende da espécie e da idade. É muito mais alta quando se é jovem. E depois cai. Nos idosos é muito baixa.
Ela nunca cessa completamente?
A neurogênese é afetada pelo grau de atividade. Um camundongo idoso, de 18 meses, praticamente não apresenta neurogênese.
Se ele tiver acesso por um mês a uma gaiola com uma roda [em que possa se exercitar voluntariamente], ou a um ambiente mais rico, apresentará o mesmo número de neurônios se dividindo que um animal jovem que não faz exercício.
Poucos dos animais idosos desenvolvem novos neurônios funcionais, mas vários conseguem. E as células que se transformam em neurônios passam a apresentar todas as ramificações.
Então quem quer manter boa memória deve correr ou, ao menos, caminhar.
Não, mas acho que tem de se manter ativo física ou intelectualmente. Não está claro ainda qual a relação entre a corrida e a neurogênese.
Em parte esse efeito é causado pela SEROTONINA.
Quando a gente se move, o núcleo da rafe ativa-se e secreta SEROTONINA no hipocampo.
Mas a atividade cardiovascular também aumenta quando se está em movimento e uma proteína chamada IGF1 [fator de crescimento da insulina 1] é liberada no sangue.
No lugar onde ocorre neurogênese há vasos sanguíneos que podem estar liberando IGF1.
Outras pessoas mostraram que, quando se impede a atividade da IGF1, bloqueia-se a proliferação de neurônios.
É um fenômeno multifatorial. Ainda não conhecemos bem.
Referência: Revista Pesquisa Fapesp – Por: Ricardo Zorzetto
COMENTÁRIO:
 Paiva Junior disse...
Paiva Junior disse...http://revistaautismo.com.br/noticias/exclusivo-brasileiro-encontra-caminho-para-cura-de-90-dos-tipos-de-autismo-alem-de-rett
Clique nesse LINK para CONFERIR